
Erich Fromm e a arte
de amar*
Vinícius Bezerra**
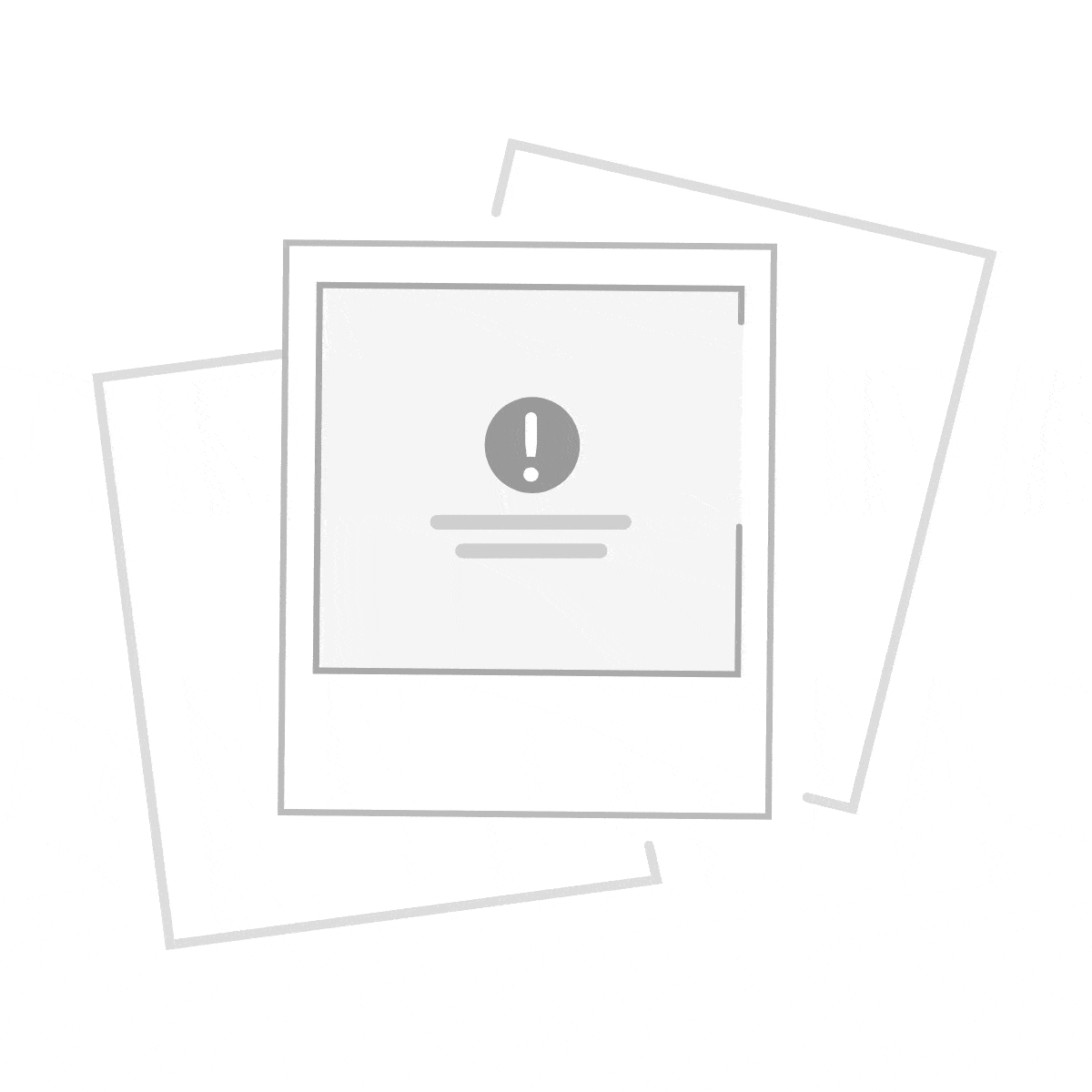
Resumo: Este artigo se ocupa das questões
amorosas a partir do pensamento de Erich Fromm. A concepção frommiana do amor é
apresentada considerando a necessidade de uma teoria do homem para
compreendê-la. Além disso, aponta- se a condição de existência do amor no
capitalismo moderno, isto é, o processo de desintegração que este sofre na
sociedade alienada.
Palavras-chave: Amor, Teoria do homem,
Alienação, Erich Fromm.
Abstract: This article deals with the loving issues from the thought
of Erich Fromm. Fromm's conception of love is presented considering the need
for a theory of man to understand it. Also, pointed out the condition of
existence of love in modern capitalism, i.e. the process of disintegration that
it suffers in alienated society.
Key words: Love, Theory of Man, Alienation, Erich Fromm.
 Os amantes, de René Magritte (Óleo sobre tela, 1928)
Os amantes, de René Magritte (Óleo sobre tela, 1928)
*
Gostaria de manifestar meus agradecimentos a Elizabeth Serra pelas valiosas e
fecundas críticas à versão prévia deste ensaio.
**
VINÍCIUS BEZERRA é professor
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA),
campus Santa Inês.
1. Introdução
Destaca-se, no interior do pensamento
filosófico de Erich Fromm, sua notável preocupação com as questões amorosas.
Pode-se afirmar que em sua proposta de socialismo humanista a recomposição da arte de amar constitui uma condição
ineliminável. Não é fortuito ele ter dedicado um livro inteiro à temática – seu
conhecido A arte de amar – além de
tê-la tratado em diversos momentos de sua obra. Exatamente em função da
amplitude da abordagem que Fromm dá ao tema, tratando as diversas formas de
amor (amor fraterno, materno, erótico, amor-próprio, amor a Deus), ocupar-
nos-emos especificamente com os fundamentos de sua teoria amorosa e seus
desdobramentos no tocante ao amor erótico. Para tanto, lançaremos mão de seus
apontamentos pelo conjunto de seus trabalhos num passeio teórico que possa
evidenciar o lugar dos fundamentos.
2.
A arte
frommiana de amar e seus dilemas
A proposição de Erich Fromm do amor como uma arte não é mero jogo
retórico, consiste na compreensão de que o amor não é uma situação acidental em que nele se “tropeça”
quem for afortunado, é sim algo que, na qualidade de arte, exige conhecimento e
esforço. E como toda arte para ser vivida precisa ser aprendida – como na
música, pintura, marcenaria, artes da medicina ou da engenharia – tal não
poderia ser diferente com a atividade de amar, o que envolve, portanto, dois domínios que devem estar
interpenetrados: o da teoria e o da prática (FROMM, 2006).
Em função destes dois domínios que envolvem a
mestria em qualquer arte, é que Fromm, no que tange ao amor, se
ocupará em tratá-lo formulando uma teoria do
amor como pré-requisito ao seu domínio prático, tomando-o de conjunto como
resposta ao problema da existência humana numa sociedade enferma que afeta
essencialmente a saúde mental de seus partícipes.
2.1.
A teoria do homem é a chave
para a teoria amorosa
Fromm é taxativo quanto a indicação de que
qualquer teoria do amor deve ter como ponto de partida uma teoria do homem, da
existência humana. Neste passo, para capturarmos o conceito frommiano de homem,
precisamos apreendê-lo sob a angulação das teorias freudiana e marxista
concernentes à questão.
A perspectiva freudiana concebe a condição
humana como uma relação contraditória entre a dependência nem sempre generosa
da natureza pelos homens em sua vida finita, configurando-a numa situação de
precariedade. Trata-se de uma tensão permanente entre a pulsão libidinosa (não
estritamente sexual), isto é, uma disposição de energia dinâmica profundamente
desejosa, cujo sentido é a preservação da espécie (o que gera um penoso
sofrimento), e sua libertação no prazer. Diminuída a tensão, através do ato
sexual e da satisfação das necessidades fisiológicas, ela se processa novamente
e se renova, devido à máquina corporal e sua química, criando nova necessidade
de redução por meio da satisfação pelo prazer. A pulsão, na qualidade de
disposição para o prazer, para realizar-se, move-se por uma dinâmica de
transferência, deslocamento e projeção. Se em princípio a natureza humana
revela-se pelo traço fisiológico, a pulsão redimensiona as necessidades
fisiológicas à medida que estabelece a ruptura
com os elementos da precariedade da vida humana (fome, doença, morte) na forma
de compensações prazerosas. Nisto consiste o processo de fundação da sociedade
(civilização), onde o ato sexual
seria a mediação do homem para com sua necessidade. E como toda socialização,
impõe limites e tenta controlar o desejo e a forma de sua realização imediata;
seria isto a repressão sexual, resultante direta do processo civilizatório. O
ciclo dor- prazer-dor, criado em função da necessidade de satisfação dos
desejos, é denominado de “princípio do prazer” por Freud. Ele estaria em
conflito com o “princípio de realidade”, que determina, conscientemente ou não,
o reconhecimento dos limites impostos
pelas condições reais em que se lançam nossos desejos, tais como riscos de morte, conflito etc. Este princípio
orienta ao homem o que procurar e o que evitar no mundo real, buscaria
viabilizar a satisfação de tais necessidades mas pari passu à repressão dos desejos, num deslocamento libidinal em
prol da organização social e coletiva da vida (FROMM, 1969).
A concepção marxiana de
homem, desviando-se da abordagem especulativa a-histórica da
natureza humana como uma substância imutável ao longo da história e da posição
relativista do homem como resultado tão-só da cultura sem qualquer traço
substancial, conforme nota Fromm (1969; 1979), está inserida na compreensão da
história como autocriação pelo trabalho humano. A categoria trabalho (atividade
vital, produtiva) possui centralidade no processo de reprodução da existência
social dos indivíduos, ela funda o ser social, possui um estatuto ontológico. Para Marx (1985), o trabalho é uma
relação metabólica entre o homem e Natureza,
onde este, ao passo que a transforma para produzir
os elementos materiais necessários à garantia de sua existência, transforma
a si mesmo. É “a condição fundamental de toda a vida humana” (Engels, 2000, p.
215), e isto, diferentemente da perspectiva metafísico-especulativa, pode ser
demonstrado no curso da história humana. Diferentemente dos animais, que para
sobreviverem precisam adaptar-se à Natureza, o homem, pelo contrário, precisa
adaptar a Natureza a si, às suas necessidades e vontades conscientes mediado
pelo ato de trabalho. Ele é imediatamente um ser natural, mas é um ser natural humano.
A Natureza é seu corpo inorgânico,
com o qual ele não pode jamais deixar de manter intercâmbio, o que não
significa que o homem seja redutível à sua condição biofísica. Tornar-se homem
significa produzir-se social e historicamente, num afastamento das barreiras
naturais e na constituição de um mundo propriamente humano, pela atividade vital consciente, o trabalho,
conforme Marx (2007; 1978) aponta nos
seus Manuscritos de 1844, que tão
decisivamente influenciaram o pensamento de Fromm.
Erich Fromm, por seu turno, modelará sua
concepção de homem através do recurso à noção de nascimento. A condição humana é conflituosa, pois ela é marcada
pela sensação de perda e desamparo por sair da Natureza e ter de permanecer
nela: “O problema da existência do homem é, portanto, único em toda a Natureza:
ele saiu da Natureza, por assim dizer, mas ainda está nela” (FROMM, 1965, p.
38). Em outro trabalho, Fromm (2000, p. 9) reafirma este indicativo: “O
essencial na existência do homem é o fato de ele ter emergido do reino animal,
da adaptação instintiva, de ter transcendido a natureza
– embora nunca a deixe: ele faz parte dela”. Por meio da analogia com o nascimento
biológico, o dilema da existência humana consiste na “importante passagem da
vida intra- uterina para a vida extra-uterina” (idem, ibidem), pois “a história
humana nada mais é do que o processo inteiro desse nascimento” (idem, p. 39). A
categoria nascimento, enquanto saída da Natureza, trabalhada por Fromm resulta,
de um lado, da influência freudiana, em especial pela sua aparelhagem
conceitual que possa lembrar por vezes a dimensão fisiológica ou mesmo
instintual. Entretanto, pelo que se pode depreender, o próprio Freud acentua o
caráter social pelo qual a pulsão se perfaz; a idéia de saída da Natureza
assemelha-se a esta noção freudiana de ruptura, marca do processo civilizador.
Sabe-se, além disso, que Fromm não é um pensador biologizante da condição
humana. Pelo contrário, ele tem em mira o devir histórico, e por isso mesmo
esforça-se por eliminar algum eventual elemento de naturalização fetichista das
relações sociais. Neste passo, entra em cena a outra fonte de influência de sua
teoria, o materialismo histórico de Marx, como perspectiva de radicalização do
caráter histórico da essência humana. A sua metáfora acerca do nascimento como elemento propulsor
do devenir histórico, ele vai buscá-la no Marx (1978, p. 41) dos Manuscritos quando este afirma que a história é o ato de nascimento que se
supera.
Sob os ombros de Marx, Fromm adotará a
produtividade como a atividade própria do homem, em seu processo de
explicitação pelo nascimento, como a chave para compreender que “todas as
necessidades humanas essenciais são determinadas por essa polaridade”
(FROMM, 1965, p.
40), ou seja,
regressão
e progressão no
âmbito da
Natureza1. É neste
momento que se insere a reflexão frommiana sobre o caráter ontológico da paixão
e do amor, isto é, o amor como a força de integração dos homens consigo mesmo e
com o mundo humano em face do desamparo causado pela separação da união
primordial com a Natureza. Eis o que Fromm denomina amor produtivo.
A este respeito ele afirma:
Há apenas uma paixão que satisfaz à necessidade
humana de unir-se com o mundo, adquirindo, ao
mesmo tempo, sensação de integridade e individualidade, e esta paixão é
o amor. Amor é união com alguém,
ou algo, fora da criatura, sob a condição
de manter a separação e integridade própria. [...] Na realidade, o amor
nasce e renasce da própria polaridade entre a separação e a união. [...] O amor
é um aspecto do que chamei de orientação produtiva: a relação ativa e criadora
do homem com seus semelhantes, dele com a Natureza (FROMM, 1965, p. 44).
Novamente Erich Fromm
aproxima-se, resguardadas as diferenças relativas, de Marx no trato que este dá
à paixão. A noção do homem como ser “natural humano” possui o sentido duplo de
padecimento humano enquanto ser de carências (dimensão natural) e no
impulso vigoroso em busca da satisfação de suas necessidades (dimensão social).
A paixão, para Marx, envolve o movimento humano
coincidente de passividade
1
Fromm (1965) menciona cinco necessidades humanas resultantes de suas condições
de existência: a necessidade de relação, a necessidade de transcendência e
criação, a necessidade de arraigamento, a necessidade de identidade e a
necessidade de uma estrutura de orientação e vinculação. O papel da paixão
amorosa insere-se na primeira necessidade mencionada. Para um aprofundamento vide Psicanálise da sociedade contemporânea.
(padecimento) e atividade. Nos
Manuscritos parisienses,
ele diz:
O homem como ser objetivo sensível é, por isso,
um ser que padece, e, por ser um ser que sente sua paixão, um ser apaixonado. A
paixão é a força essencial do homem
que tende energicamente para seu objeto (MARX, 1978, p. 41).
Ora, se Fromm, tal como Marx, vê na paixão e no
amor uma força intrinsecamente ligada ao modo
de vida do ser social, em seu perene perfazimento pelo trabalho
produtivo, as relações sociais de um
modo de produção arregimentado pela propriedade privada e pela alienação do
trabalho tem impacto determinante no modo
de ser dos amantes. Entramos, neste contexto, na realidade do quadro
amoroso na sociedade capitalista.
2.2.
A desintegração do amor no
capitalismo moderno
A análise empreendida por Fromm da sociedade
capitalista contemporânea reveste-se da aparelhagem crítica herdada do
pensamento marxiano, numa perspectiva de aprofundamento, a partir da captura na
vida cotidiana do comportamento social de nossa época. Nesta contextura,
sobressai-se como traço essencial de nosso tempo: a alienação. Segundo Fromm (1979, p. 50),
A alienação (ou “alheamento”)
receptivamente, como o sujeito separado do
objeto.
A partir deste móvel da sociedade
contemporânea, Fromm apresentará aqueles que seriam seus traços
caracterológicos no sentido da agudização da alienação2. Para efeito
de nossa reflexão, retomaremos livremente alguns destes traços para fazer notar
o caráter alienado do amor erótico na sociedade produtora de mercadorias.
Entre as formas de pseudo-amor mais
corriqueiras, Fromm (2006, p. 123) assinala o amor idólatra. Nesta relação, a “pessoa aliena-se de suas
potencialidades e projeta-as na pessoa amada, que é adorada como o máximo, a
portadora de todo amor, de toda luz, de toda felicidade”. A idolatria se faz
presente também numa outra freqüente forma de alienação, a linguagem. Fromm
(1979, p.51) exemplifica tal situação precisamente pelo universo amoroso:
Se exprimo um sentimento por palavras, digamos,
seu eu falo “Eu te amo”, as palavras visam a indicar a realidade existente em
meu íntimo, o poder de meu amor. A palavra “amor” é tomada como símbolo do fato amor, mas assim que é pronunciada
ela tende a assumir vida própria tornando-se uma realidade. Fico na ilusão de
que pronunciar a palavra equivale a ter a experiência, e em breve digo a
palavra sem nada sentir, exceto o
significa [...] que o
homem não se
vivencia
como agente ativo de seu
controle sobre o mundo, mas que o mundo (a natureza, os outros, e ele mesmo)
permanece alheio ou estranho a ele.
Eles ficam acima e contra ele como objetos, malgrado possam ser objetos por ele
mesmo criados. Alienar-se é, em última análise, vivenciar o mundo e a si mesmo passivamente,
2
Conforme Fromm (1965), os traços caracterológicos da sociedade contemporânea
seriam a idolatria (quando os homens subordinam-se às suas criações numa
relação de culto como algo acima deles), a abstratificação (capacidade de fazer
referência a algum objeto ou fenômeno mesmo em sua ausência; destacam-se a
burocracia e o dinheiro), o consumismo e fantasia (passividade sobre os objetos
produzidos pelos homens como inteiramente exteriores a eles), e o
irracionalismo.
pensamento
de amor expresso pela palavra.
Outra forma de pseudo-amor seria o amor sentimental. “Sua essência está no
fato de que o amor é experimentado apenas na fantasia e não relacionamento aqui
e agora com uma pessoa real” (FROMM, 2006, p. 124). Consuma-se em substitutos
de diversas ordens, como filmes, histórias ou canções de amor, ou mesmo, entre
os amantes, através da “abstratização” periódica do amor nas lembranças do
passado. O que predomina são
experiências fictícias que atuam como ópio no alívio da dor da realidade, da
solidão moderna crescente.
Como se evidencia, a lógica abstratificada do
mercado – através da mediação universal do dinheiro – se alastra sobre todos os campos da sociabilidade, conformando,
outrossim, um mercado da personalidade (idem,
p. 3). Isto tem implicações decisivas para as relações eróticas. A regra geral
de coordenação da sociedade burguesa, regulada pelo quantum abstrato do valor de troca, se exprime na subsunção do ser pelo ter. O sentido do ter,
expressão direta da propriedade privada, domina todas as dimensões da vida
capitalista. Em nível geral, o dinheiro constitui seu vetor conducente. Ele
garante plenamente a materialização da equação social para o qual eu sou = o que tenho. Os indivíduos, nas sociedades de mercado, não são
expressão direta de sua personalidade, são a capacidade que seu poder social pode efetivar, ou seja, o
que seu dinheiro pode comprar (FROMM, 1982; MARX, 2007; 1978).
Nesse sentido, com acerto Fromm (2006, p. 4)
nos diz que “[...] duas pessoas se
apaixonam quando sentem que
encontraram o melhor objeto disponível no mercado, dadas as limitações de seus
próprios valores de troca”.
Em nível subjetivo, o domínio da propriedade
privada é também avassalador. Os amantes se relacionam como proprietários
privados do corpo e do espírito um do outro. Formas neuróticas e obsessivas, no
caminho da patologia generalizada da sociedade moderna e seu caráter social
enfermo, convertem-se no parâmetro das relações amorosas. O ciúme é notável
fenômeno neste processo. Daí Fromm (1982, p.
61) ser categórico sobre o real significado do
casamento: “O contrato de casamento dá a cada sócio a posse exclusiva do corpo,
dos sentimentos e do cuidado. Ninguém mais tem que conquistar, porque o amor
tornou-se alguma coisa que se tem,
uma propriedade”. O que se põe em relevo é a conversão imperiosa do caráter de atividade do amor – cuja marca,
portanto, é a processualidade – para
a condição imóvel da passividade alienada, sua coisificação como amor- mercadoria. Estamos,
parece, no extremo oposto da arte de amar.
O amor erótico possui uma peculiaridade
que o contrasta com as demais formas amorosas. Em nível imediato, por ser uma
relação a dois, no anseio pela fusão completa, sugere exclusividade e não
universalidade. Por isso, “talvez seja também a forma de amor mais enganadora
que há” (FROMM, 2006, p. 65). Em primeiro lugar, o amor erótico é comumente
confundido com explosões súbitas da destruição das barreiras entre estranhos,
especialmente através da mediação do contato sexual, que parece superar o
estado de separação já aludido anteriormente. Entretanto, “Se o desejo de união
física não for estimulado pelo amor, se o amor erótico não for também amor
fraterno, nunca levará a mais que uma união orgiástica e transitória” (idem, p. 68).
No limiar desta reflexão, podemos argumentar,
em face do caráter generalizado e estrutural da alienação e das relações de
propriedade provenientes do capitalismo moderno e sua determinação na forma
alienada de amar, que a realização do amor erótico para Fromm só pode ocorrer
simultaneamente à superação da sociedade burguesa e suas diversas ordens de
alienação, no percurso da emancipação humana então apontada por Marx, o que,
por sua vez, implicaria dizer que se trata de uma emancipação amorosa. Segundo
Fromm (idem, p. 69), “O amor erótico é
exclusivo, mas ele ama na outra pessoa toda a humanidade, tudo o que vive. Só é
exclusivo no sentido de que eu posso me fundir plena e intensamente apenas com
uma pessoa”. Ora, a alienação é a perda do controle e domínio consciente dos
homens de sua própria vida. Os homens não se percebem no mundo que erigiram,
inclusive nos outros como
objetivações da humanidade. Desta forma, assegurar o amor erótico
nestes
alcance da esfera amorosa como um elemento
ontológico no processo de reprodução da existência social, e, segundamente, os
nexos complexos entre a reprodução material e o modo de ser amoroso. Procuramos demonstrar que esta premissa
teórico-metodológica é quem permite a captura do esteio do ser social burguês
(o capitalismo moderno) – a alienação e a propriedade privada – como pilastra
determinante pelo qual se enreda o amor em nossa época. Da mesma forma que a
alienação desumaniza os homens, o
amor alienado é a própria negação da arte
de amar. Fundar o amor como uma arte exige
a apreensão destes fundamentos e ao mesmo tempo a orientação prática da mudança.
Referências
ENGELS,
Friedrich. Humanização do macaco pelo trabalho. In: A dialética da natureza. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.
FROMM,
Erich. Conceito marxista de homem.
Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979.
termos coincide
com a reapropriação . Psicanálise da sociedade
consciente, coletiva e universal dos meios de produção da riqueza
social. A
contemporânea. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1965.
condição de existência do amor . Ter ou Ser? Rio
de Janeiro, RJ:
emancipado está ação revolucionária
Zahar Editores, 1982.
sobre o mundo.
. Meu encontro com Marx e Freud.
3. Considerações finais
O transcurso acima traçado buscou evidenciar o
caráter profundamente crítico com que Erich Fromm aborda a temática amorosa. Há
uma notável aproximação entre a sua abordagem e a de Marx. A retomada de uma
antropologia filosófica exprime, primeiramente, a compreensão de longo
Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1969.
. A arte de amar. São Paulo: Martins
Fontes, 2006.
MARX, Karl. Manuscritos Econômico- Filosóficos. São Paulo:
Martin Claret, 2006.
São Paulo: Abril Cultural, 1978.

Comentários
Postar um comentário