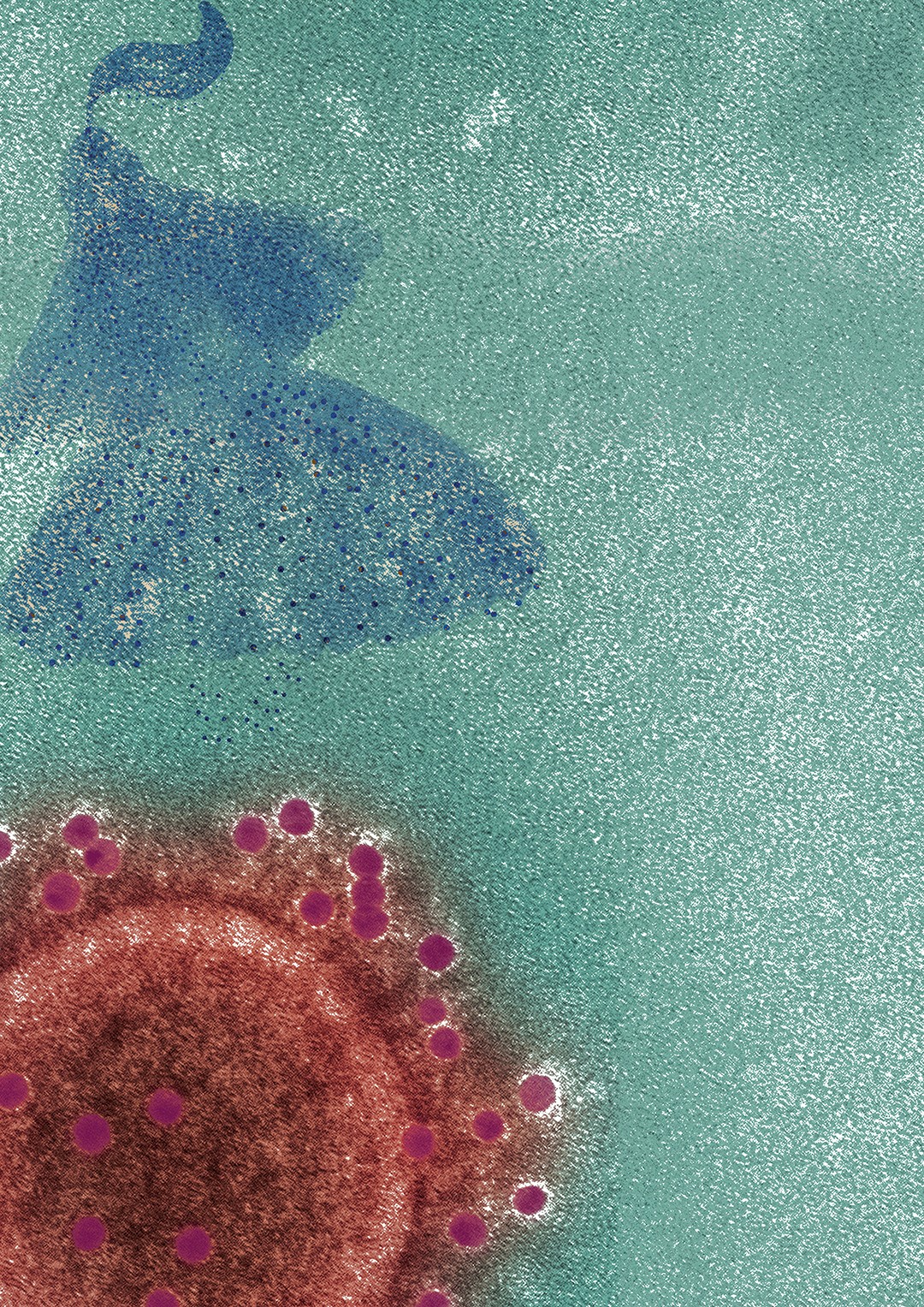
Djamila Ribeiro:
"A doença pede respeito, cuidado, proteção" (Foto: Ilustração:
Mariana Simonetti)
Salvar
Coronavírus:
É preciso aprender com a doença
DJAMILA RIBEIRO,FILÓSOFA*
ATUALIZADO EM
Em sua nova coluna, a filósofa e escritora Djamila Ribeiro
escreve sobre a pandemia a partir da perspectiva das religiões
afro-brasileiras: "Na matriz de religião afro-brasileira, a doença é um
Orixá que atende pelo nome de Obaluaiyê, também conhecido como Omulu. A doença
vem para que todos fiquem em silêncio e anuncia transformações na sociedade
que, esta sim, está adoecida há muito tempo"
A doença pandêmica tem sido uma grande professora, revelando-nos
realidades que recusávamos enxergar e ensinando um novo mundo possível. Na
matriz de religião afro-brasileira, a doença é um Orixá que atende pelo nome de
Obaluaiyê, também conhecido como Omulu. Pode parecer estranho para a tradição
cristã a doença ser uma divindade, mas na tradição que cultuamos não há essa
estranheza. Pelo contrário, a doença vem para que todos fiquem em silêncio e
anuncia transformações na sociedade que, esta sim, está adoecida há muito
tempo.
DJAMILA RIBEIRO
Nesse sentido, como bem
afirma o babalorixá e doutor em semiótica pela Universidade de São Paulo Sidnei
Barreto, “no Ocidente, é impossível crer que a doença é algo bom e necessário,
mas é. A doença pede respeito, cuidado, proteção. É um alerta. Sim. Nós temos
uma divindade-doença, e se não a tivéssemos seríamos todos bestas das mais
violentas, prontas a matar e morrer prematuramente e sem sentimentos ou
empatia. A doença – Obaluaiyê – nos ensina o valor da vida. O valor do cuidado
com a saúde, o valor do ser humano e do criador e dos Orixás que nos habitam.
Obaluaiyê pede respeito. Obaluaiyê avisa que a sociedade está doente e que
adoece porque se esqueceu do valor da vida coletiva”.
Será que um país
como o Brasil, que subiu o desmatamento já altíssimo em 30% durante o
isolamento, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe),
tem aprendido com a pandemia?
Pobre da civilização que
não se silencia pela passagem de Omulu e não escuta as transformações que ele
anuncia. Será que um país como o Brasil, que subiu o desmatamento já altíssimo
em 30% durante o isolamento, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe), tem aprendido com a pandemia? O desmatamento neste ano
alcançou, até abril passado, o tamanho de uma cidade como Nova York, megalópole
estadunidense. A considerar o nível de depredação do planeta pelos seres
humanos, em especial pelos latifundiários e especuladores brasileiros, o
coronavírus não será a única pancada coletiva que assolará a população em um
futuro próximo.
Nos centros urbanos, as raízes
coloniais de uma sociedade fundada sobre a injustiça e a desigualdade dão um
formato à pandemia. Dados iniciais do Ministério da Saúde mostram que, no
Brasil, a doença é mais letal entre negros do que entre brancos. As razões para
isso são várias. Segundo Thiago Amparo, advogado e professor de diversidade na
Fundação Getulio Vargas, “nos ombros de mulheres negras recai
desproporcionalmente os cuidados de sua família e serviços precarizados.
Doenças respiratórias são agravadas por condições socioeconômicas, afetando de
modo desigual negros. Isso sem citar a extensa literatura que mostra como
médicos gastam menos tempo e recursos com pacientes negros do que com os
brancos”. A realidade é semelhante nos Estados Unidos. Na Louisiana, 70% dos
mortos são negros, embora apenas um terço da população seja negra. Em Chicago,
onde menos de um terço da população é composta por negros, os mortos
ultrapassam a metade.
Precisamos aprofundar o debate e
questionar as raízes desse sistema, caso desejemos viver um tempo posterior à
doença. Nesse sentido, uma pergunta é necessária: será que discursos políticos
baseados em inumanidades e em desmonte público podem seguir?
No Brasil, a campanha #FiqueEmCasa repete que a prática é
para quem pode ficar. E pergunta-se: qual o grupo social mais privilegiado e
com condições de ficar em casa? Assistindo ao telejornal antes de escrever este
texto, a repórter chamava a atenção das pessoas por irem às agências bancárias
tirar dúvidas sobre o auxílio emergencial, uma vez que não seria necessário,
pois bastaria fazer isso “pela internet”. Em seguida, corta para o apresentador
dizer, em tom de obviedade e com voz vagarosa, como se estivesse a falar com
alguém sem condições cognitivas de entender o que ele estava dizendo, que
bastava o acesso à internet para regularizar o que for preciso. Ora, será que o
apresentador e a equipe que prepara o editorial têm ideia do número de
brasileiros e brasileiras que não possuem acesso à internet? Segundo dados de
2019 do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da
Informação (Cetic), 30% dos brasileiros não têm acesso à rede. Muitos não
possuem saneamento, água encanada, materiais de higienização para se prevenir.
Ou seja, precisamos aprofundar o debate e questionar as raízes desse sistema, caso desejemos viver um tempo posterior à doença. Nesse sentido, uma pergunta é necessária: será que discursos políticos baseados em inumanidades e em desmonte público podem seguir?

Ou seja, precisamos aprofundar o debate e questionar as raízes desse sistema, caso desejemos viver um tempo posterior à doença. Nesse sentido, uma pergunta é necessária: será que discursos políticos baseados em inumanidades e em desmonte público podem seguir?

*Djamila
Ribeiro é mestre em filosofia política e feminista, autora dos livros O Que É Lugar
de Fala, Quem Tem Medo
do Feminismo Negro? e Pequeno Manual
Antirracista.
(@djamilaribeiro1)
(@djamilaribeiro1)
Comentários
Postar um comentário