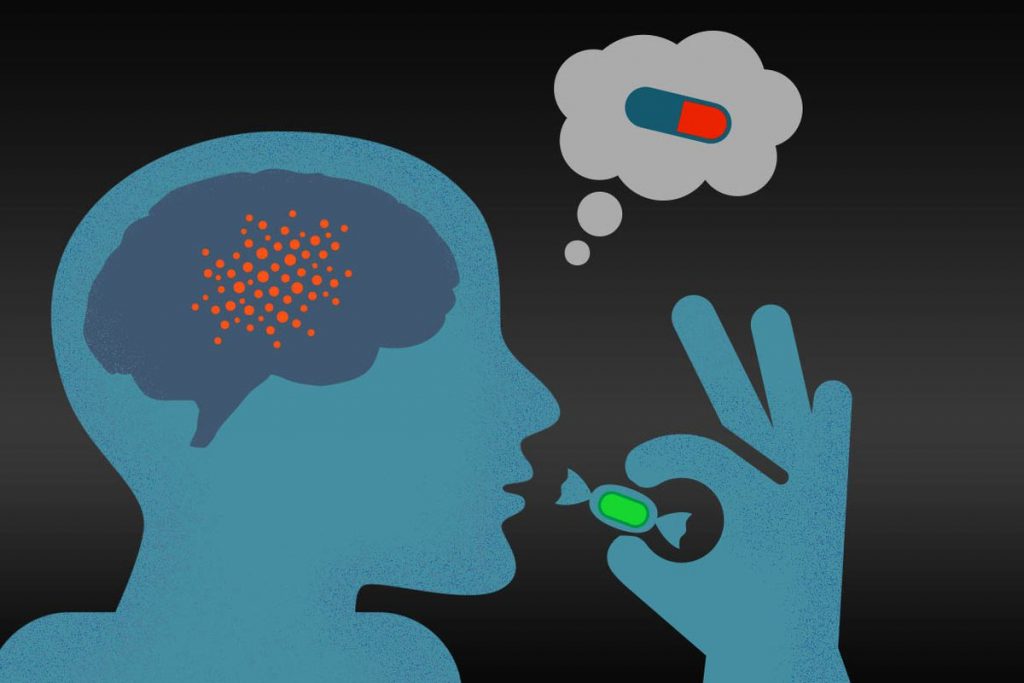
A CURA PODE ESTAR AQUI OU VIR DE DENTRO DA SUA CABEÇA: AS EXPLICAÇÕES PARA O EFEITO PLACEBO
Um paciente que acredita no tratamento melhora mesmo tomando pílulas de farinha?
Se você perguntar para um grupo de médicos se um deles já teve algum paciente que melhorou de forma surpreendente sem recorrer a remédios ou cirurgias, certamente vai ouvir muitas histórias. Se fizer a mesma pergunta aos amigos, é provável que descubra casos interessantes de gente que sarou sem passar pelo ambulatório. Foi a vizinha que se curou do câncer, o tio que espantou a insônia, o colega que se livrou da artrite. Não se trata de conversa fiada nem de fenômeno sobrenatural. Melhoras ou curas como essas começam a ser vistas pela ciência como provas da participação ativa da mente – ou seja, das emoções, crenças e expectativas – no tratamento de uma doença física. É o efeito placebo.
Placebo é um termo emprestado do latim. Significa “agradar”. Serve para designar a substância inócua usada em experimentos clínicos que testam a eficácia terapêutica de uma nova droga. Nesses experimentos, os pacientes são divididos em dois grupos: o primeiro recebe o novo medicamento e o segundo, que servirá de controle, o placebo. São testes chamados de duplo-cegos, porque nem o paciente nem o médico sabem que indivíduo receberá qual substância – a informação é mantida em sigilo pela equipe coordenadora até o fim da experiência. Ao contrário da droga estudada, o placebo não tem princípio ativo. Pode ser uma pílula de farinha, uma cápsula com açúcar ou uma ampola com soro fisiológico – desde que a semelhança com o remédio de verdade seja perfeita. Teoricamente, não deveria provocar efeito algum. No entanto…
“O índice de melhora do grupo que recebe placebo chega a 40% dos casos, em média”, afirma o psiquiatra Elisaldo Carlini, da Universidade Federal de São Paulo. Isso mostra que até quatro em cada dez pacientes sente alívio de algum sintoma físico somente por tomar um remédio de mentira acreditando que é verdadeiro. Eis o efeito placebo. A vontade de se curar, a crença no médico ou no poder terapêutico da substância trazem benefícios para o doente, desde potencializar a ação de um medicamento até reverter um quadro de dor, por exemplo. “O efeito placebo é real. Trata-se de ciência e não de esoterismo ou magia, como muita gente pensa”, diz o farmacêutico José Carlos Nassute, professor da Universidade Estadual Paulista, em Araraquara.
Casos para comprovar o fenômeno não faltam. “Se a medicina não contar com a crença do paciente em sua própria melhora, nada funciona”, afirma Carlini. Ele se recorda de uma experiência realizada no Hospital São Paulo, na capital paulista, com uma substância que teria propriedades antiepiléticas. Foram selecionados pacientes com epilepsia severa, que, no ano anterior, haviam tido pelo menos uma crise por semana e que não reagiam mais a nenhum medicamento. O estudo seguia o modelo duplo-cego e obteve a aprovação do comitê de ética do hospital.
Entre os que receberam o placebo estava um paciente chamado João. Era um homem humilde e apresentava duas ou três convulsões por semana. Durante os seis meses de acompanhamento, em que recebia uma cápsula com açúcar cristal por semana, João não teve nenhuma crise. “Seria difícil explicar para ele o fim da experiência”, diz Carlini. “Então, durante mais de um ano, continuamos a lhe dar o placebo. Lembro-me de que ele nem sempre tinha dinheiro para pagar a condução. Mas fazia questão de nos trazer uma caixa de bombons sempre que possível, quando vinha buscar as cápsulas.”
Carlini analisa a história de João dentro do contexto do sistema de saúde brasileiro. Em geral, diz ele, os pacientes costumam ser atendidos em ambulatório, enfrentar filas de espera e consultas rápidas, cada vez com um profissional diferente. Quando são selecionados para participar de um estudo, recebem toda a atenção da equipe médica, em horários agendados, e têm o tratamento supervisionado do começo ao fim. “Esse paciente, ao ser tratado dessa maneira, deseja melhorar. Ficar bom é uma forma de agradecer ao médico que o atende com tanta atenção”, diz Carlini. Ele e outros cientistas reconhecem que a gratidão do paciente pode desencadear o efeito placebo, assim como outros fatores presentes na relação com o médico. Um cumprimento mais afetuoso ou mesmo um procedimento complexo, como a cirurgia, também podem induzir uma melhora.
“A intensidade do fenômeno depende tanto da doença que está sendo tratada quanto da natureza do placebo”, diz o psicólogo americano Irving Kirsch, da Universidade de Connecticut, que há 25 anos estuda o assunto. “Placebos apresentados como se fossem remédios de uma marca conhecida provocam mais efeito do que aqueles tidos como genéricos. E injeções de substâncias inócuas são mais efetivas do que as pílulas da mesma substância.” Quanto maior e mais dramático parece ser o procedimento terapêutico, maior o efeito placebo para o paciente.
Um exemplo da influência das expectativas aconteceu no Texas, Estados Unidos. Dez pacientes, com fortes dores no joelho devido a artrite, aguardavam a vez de serem operados pelo cirurgião americano J. Bruce Moseley. Cético sobre os reais benefícios da cirurgia, Moseley resolveu fazer um teste. Conseguiu a aprovação do comitê de ética do hospital e o consentimento dos pacientes. Os dez homens seriam anestesiados e levados para a sala de operações. No entanto, apenas dois deles seriam submetidos à cirurgia completa, que consiste em retirar parte da junta inflamada e lavar a região afetada. Três teriam apenas a área atingida lavada e, nos cinco restantes, seriam feitos apenas três pequenos cortes superficiais no joelho, imitando os normalmente adotados nesse tipo de cirurgia. Seis meses depois, os dez pacientes ainda não sabiam a que tipo de procedimento haviam sido submetidos, mas todos eles sentiram o mesmo grau de diminuição das dores.
O efeito placebo não se restringe aos testes. “Está presente em todo ato terapêutico”, diz o médico Eduardo Baleeiro, da Universidade Federal da Bahia. “Na minha experiência clínica, o fenômeno placebo não aparece como exceção, mas sim como a regra.” Ele conta a história de um homem de 74 anos que estava com câncer de laringe e, por isso, apresentava uma rouquidão constante. Foi submetido a duas sessões de radioterapia, sem sucesso.
Baleeiro e sua equipe, ao ver o tamanho do tumor, optaram por uma cirurgia para a remoção da laringe. Se não fosse operado, acreditavam, o paciente provavelmente morreria em poucos meses. Mas o homem negou-se a passar pela cirurgia pois, sem laringe, não poderia fazer o que mais gostava: nadar diariamente e tocar sua gaita de sopro. (Depois da cirurgia de retirada da laringe, os pacientes passam a respirar por um orifício no pescoço.) Ele procurou, então, seu médico de confiança, que lhe propôs um tratamento sem cirurgia. “O paciente está vivo há mais de cinco anos, graças à sua determinação e à incondicional confiança naquele médico”, afirma.
Mas, tanto nos experimentos quanto no consultório, os médicos encontram também casos de efeito nocebo – o fenômeno inverso ao placebo. “O paciente pode, ao tomar uma substância inócua, sentir os mesmos efeitos colaterais que um remédio causaria”, diz Robert Hahn, especialista em antropologia médica do Centro de Controle de Doenças do governo dos Estados Unidos. “Às vezes, também, as expectativas do paciente quanto ao tratamento são tão negativas que acabam bloqueando ou invertendo a ação do medicamento verdadeiro.”
Auto-sugestão? Os pesquisadores admitem que a mente desempenha um papel fundamental no efeito placebo (e no nocebo também). “Está mais do que provado que as emoções podem desencadear alterações físicas”, diz o farmacêutico José Nassute. Por que o mesmo antibiótico passa a “agir” quando você muda de médico? “Em certas doenças, a fé do paciente na cura pode funcionar por si só”, afirma o cardiologista americano Herbert Benson, fundador do Instituto Médico Mente e Corpo, ligado à Universidade de Harvard. “Em outras, a fé potencializa os efeitos da medicação. Isso quer dizer que a mente participa do tratamento. Mas não substitui os remédios e cirurgias que existem.”
Para a psicóloga Denise Gimenez Ramos, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, o efeito placebo soa como um fenômeno inexplicável porque o ser humano se acostumou a enxergar a capacidade de cura como algo externo a si mesmo. “Projetamos o efeito curador no médico, no remédio, na cirurgia, num objeto mágico, numa imagem sagrada – ou no placebo.”
Denise cita a história do paciente Wright, um americano com câncer em estado avançado, que ficou famoso na medicina pela evidência do poder dos efeitos placebo e nocebo. Doente terminal, Wright apresentava tumores grandes e respirava com a ajuda de tubos de oxigênio. Ele descobriu que o hospital em que estava internado iria realizar testes com uma nova droga, o krebiozen, e pediu para ser incluído no grupo a ser estudado. Apesar de desenganado, estava tão entusiasmado que os médicos não tiveram alternativa senão aceitá-lo nos testes.
Dias depois das primeiras aplicações de krebiozen, Wright deixou o hospital recuperado. Mas isso só durou até os jornais divulgarem pesquisas que questionavam o efeito terapêutico da droga. Wright ficou deprimido. Seus tumores voltaram, ele teve uma recaída fulminante e foi internado novamente, em estado grave. O médico, percebendo o efeito placebo, disse que tinha disponível krebiozen refinado, muito mais eficaz que a versão anterior. Wright recuperou a confiança na cura e, depois das injeções de placebo, recebeu nova alta. Quando o relatório final da Associação Médica Americana foi divulgado, dizendo que a droga de fato não funcionava, Wright retornou ao hospital e, dias depois, morreu.
Pode parecer que o fenômeno não passa de um jogo de emoções. Mas os cientistas apontam algumas explicações fisiológicas para os efeitos placebo e nocebo. Muitos deles apostam no reflexo condicionado. A repetição de um estímulo acaba acostumando o sistema nervoso a responder sempre da mesma maneira. Quem elaborou essa teoria foi o fisiologista russo Ivan Pavlov (1849-1936). Durante meses, ele tocava um sino e, em seguida, alimentava seus cães. Com o tempo, bastava tocar o sino para que os animais começassem a salivar, mesmo que não houvesse ração.
“Mas o condicionamento pavloviano nada tem a ver com expectativas pessoais”, diz o psicólogo Shepard Siegel, da Universidade McMaster, no Canadá, especialista no assunto. Ele cita um caso clássico de pessoas com alergia ao pólen – mesmo quando expostas a flores de plástico desenvolviam uma grave reação alérgica. “A associação entre a imagem da flor e a lembrança do malefício do pólen trazia a mesma reação à visão daquelas flores artificiais.”
Outro interessado em entender a fisiologia do placebo, o italiano Fabrizio Benedetti, da Universidade de Torino, constatou que as nossas expectativas podem evitar ou disparar a sensação de dor. Ou seja, nossa mente teria um poder analgésico, sim. E seria capaz de anestesiar uma parte do corpo e não outra, dependendo da resposta específica ao placebo. Voluntários que passaram um placebo na mão, acreditando ser um gel contra a dor, afirmaram que a sensibilidade das mãos diminuiu, ao contrário da dos pés. “Concluímos que na diminuição da dor provocada pelo placebo há participação das substâncias narcotizantes do nosso próprio cérebro quando fatores cognitivos, como expectativas e crenças, estão envolvidos.”
Mesmo com tantas evidências, há quem coloque em dúvida a existência do fenômeno na maioria dos casos já descritos. Em maio deste ano, dois pesquisadores dinamarqueses publicaram um estudo comparando o efeito placebo com a ausência de tratamento. A conclusão surpreendeu o meio científico. Após analisar 114 pesquisas com quase 7 500 pacientes em 40 diferentes condições, eles concluíram que não há dados suficientemente seguros para afirmar que os doentes melhoram só por acreditar que um falso tratamento é real.
“Constatamos que a porcentagem de melhora atribuída ao efeito placebo não era estatisticamente significativa”, diz o médico Asbjorn Hrobjartsson, da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, um dos autores do estudo. “Nos testes com resultados em escala (como melhora da hipertensão, por exemplo), a presença do efeito placebo era modesta e não podia ser diferenciada de um esforço do paciente para agradar o pesquisador.” Além disso, afirma ele, a maioria dos artigos publicados sobre o fenômeno não distingue os efeitos do placebo do curso natural de uma moléstia. Em geral, existe um período na doença em que o indivíduo parece melhorar. “Será que não se atribui erroneamente esse período de melhora ao efeito placebo?”, pergunta Hrobjartsson. Os pesquisadores não têm a resposta.
Falta muito para a ciência entender os mecanismos emocionais e fisiológicos que envolvem o desaparecimento de moléstias no organismo. “Há tratamentos em que não se produz efeito placebo. Em outros, quase 100% dos pacientes melhoram”, diz Irving Kirsch. Ao que tudo indica, há mais coisas entre a doença e a cura do que sonha a nossa biologia.
Para saber mais
Na livraria
Placebo Effect, de Anne Harrington. Harvard University Press, Estados Unidos, 2000
A Psique do Corpo, de Denise Gimenez Ramos.
Summus Editorial, São Paulo, 1994
Emoções que Curam, de Daniel Goleman (org.)
Editora Rocco, Rio de Janeiro, 1999
Na internet
Fonte:https://super.abril.com.br/ciencia/a-cura-pode-estar-aqui-ou-dentro-da-sua-cabeca/
O poder da mente: O que é e como funciona o efeito placebo?
Sua mente pode ser uma poderosa ferramenta de cura, quando é dada uma chance à ela. A ideia de que seu cérebro pode convencer seu corpo de que um tratamento falso é algo real, e assim, estimular a cura, é chamado de efeito placebo. E ele tem sido cada vez mais usado!
Placebo é algo que parece ser um tratamento médico real, mas que na realidade não possui propriedades terapêuticas. Pode ser uma pílula, uma injeção, algum tipo de tratamento ou mesmo uma operação. O que todos os placebos têm em comum é que eles não contêm uma substância ativa que afeta a saúde.
Quando o placebo é usado?
Os pesquisadores usam placebos durante estudos para entender o efeito que uma nova droga ou algum outro tratamento pode ter em uma determinada condição.
Por exemplo, durante um estudo, algumas pessoas recebem uma nova droga para reduzir o colesterol, enquanto outras receberiam um placebo.
Nenhuma das pessoas desse estudo poderá saber se obtiveram um tratamento real ou um placebo. Então, os pesquisadores comparam os efeitos da droga e do placebo nas pessoas que os tomaram.
Dessa forma, eles podem determinar a eficácia do novo medicamento e verificar seus efeitos colaterais.
Mas o que é o efeito Placebo?
Às vezes, as pessoas podem ter uma resposta a um placebo, que pode ser positiva ou negativa. Por exemplo, os sintomas da pessoa podem melhorar, ou ela pode ter o que deveriam ser os efeitos colaterais do tratamento. Essas respostas à esse medicamente falso são conhecidas como "efeito placebo".
Alguns dos sintomas ou doenças que respondem ao uso de placebo são:
- Parkinson;
- Ansiedade;
- Depressão;
- Úlcera;
- Asma;
- Dor (de dentes, no joelho, de cabeça, entre outros).
E como funciona o efeito placebo?
Uma das teorias mais comuns é que o efeito placebo funciona através de um processo conhecido como condicionamento, onde os pacientes esperam pelo alívio da dor quando tomam alguma medicação.
Essa crença do paciente em uma melhoria é apresentada por uma atividade no córtex pré-frontal, uma área de comando do nosso cérebro.
Essa atividade pode gerar uma resposta fisiológica ao uso do placebo, como encorajar outras partes do cérebro a liberar opioides, ou desencadear uma redução da atividade em áreas sensíveis à dor.

Por exemplo, em um estudo, pessoas receberam um placebo e lhes disseram que era um estimulante. Depois de tomar a pílula, o pulso delas aceleraram, a pressão arterial aumentou e as velocidades de reação melhoraram. Quando as pessoas receberam a mesma pílula e disseram que era para ajudá-los a dormir, eles sentiram os efeitos opostos.
O mesmo também pode acontecer para efeitos negativos. Se as pessoas esperam ter efeitos colaterais como dores de cabeça, náuseas ou sonolência, há uma maior chance de que essas reações aconteçam. Essas reações negativas são conhecidas como nocebos.
O que pode influenciar no funcionamento do placebo?
Alguns fatores como cores, forma de aplicação, marca e valor pago também podem influenciar nos efeitos causados pelo placebo.

As cores e seus diferentes efeitos
Nos EUA e na maior parte da Europa, as empresas farmacêuticas seguem uma simples regra para a cor da pílulas: as pílulas vermelhas são para efeitos estimulantes, as pílulas azuis são para efeitos calmantes.
Estimulantes vermelhos e estimulantes azuis que contém as mesmas doses de medicamento mostram resultados diferentes.
Porém, outras cores também podem produzir efeitos diferentes.
- Comprimidos brancos são capazes de melhorar problemas como úlcera, mesmo quando contêm apenas lactose;
- Pílulas amarelas tornam os antidepressivos mais eficazes;
- Comprimidos azuis possuem efeito tranquilizante;
- Pílulas verdes são melhores para aliviar a ansiedade;
- Pílulas de cores quentes, como vermelho e laranja, são melhores estimulantes.
Uma marca pode trazer mais resultados?
A marca também influencia no poder do efeito placebo. Um estudo de 1981, publicado em um jornal britânico, descobriu que as aspirinas que continham marca eram mais eficazes do que as genéricas. E isso também funcionava com placebos, onde o placebo que continha uma marca fazia mais efeito do que um genérico.
Estudos também mostram que injeções e cápsulas possuem mais efeito nos pacientes, do que os comprimidos.
O preço também é um placebo
Em um estudo de 2008, feito em Boston, 82 voluntários saudáveis foram convidados a testar um novo medicamento contra a dor que, na realidade, era um placebo.
O grupo foi dividido aleatoriamente. Um subgrupo foi informado de que a nova medicação custava 2,50 dólares por comprimido. Ao outro subgrupo informaram que custava apenas 10 centavos de dólar por comprimido.
Os participantes foram submetidos à um estímulo de dor, e deviam avaliar essa dor antes e após de receberem a pílula. O resultado foi que 85,4% tiveram alívio da dor usando a pílula de preço mais caro, enquanto apenas 61% tiveram alívio usando a pílula barata.
O lugar onde vivemos pode influenciar os efeitos
A cultura também influencia nossa percepção sobre as doenças, e como respondemos ao tratamento.
Um estudo sobre o tratamento com placebo para gastrite mostrou que, nesse caso, o efeito placebo era baixo no Brasil, mais alto no norte da Europa e extremamente alto na Alemanha.
E esse efeito pode funcionar mesmo quando você sabe que recebeu uma pílula falsa
Cientistas descobriram que o efeito placebo funciona mesmo quando as pessoas sabem que estão tomando uma droga falsa.
Tradicionalmente, pensava-se que as pílulas de açúcar só eram eficazes quando o paciente não sabia que elas eram falsos medicamentos.
No entanto, um novo teste mostrou que as pessoas ainda conseguem ver os benefícios, mesmo sabendo que é um placebo. O efeito ocorre desde que seja dito ao paciente que eles podem ter um efeito.
Pesquisadores da Universidade de Harvard e da Universidade de Basileia, na Suíça, realizaram um experimento com 160 voluntários. Eles foram convidados a colocar o braço em uma placa de aquecimento, até que não pudessem suportar a dor.
Todos receberam placebos, porém um terço do grupo foi informado de que receberam um analgésico para ajudar com a queimadura. Um segundo grupo foi avisado que o creme era apenas um placebo, mas lhes foi explicado sobre como os medicamentos falsos podem ajudar. Já o terceiro grupo foi informado de que eles usariam um placebo, mas sem comentários adicionais.
Os resultados mostraram que aqueles que conheciam os efeitos do placebo experimentaram um alívio da dor semelhante àqueles que achavam que haviam tomado o analgésico. Já o grupo que não conhecia os efeitos do placebo não sentiu os efeitos da droga.
Fonte:https://www.hipercultura.com/como-funciona-o-efeito-placebo/
Remédios imaginários
Expectativa e condicionamento explicam por que placebo, às vezes, funciona
Talvez os mais rigorosos tenham de rever algumas certezas. Está um pouco mais fácil explicar os resultados estranhos de um estudo norte-americano realizado no Texas e publicado há dois anos em uma das mais respeitadas revistas médicas do mundo, o New England Journal of Medicine . Num experimento destinado a avaliar a eficácia de uma cirurgia bastante comum de joelho, feita em 650 mil indivíduos por ano nos Estados Unidos a um custo de US$ 5 mil cada, as pessoas que passaram por uma falsa operação, com três cortes superficiais no joelho, melhoraram tanto quanto as que se submeteram à cirurgia real, com a retirada de partes gastas de cartilagem.
A explicação? A improvável recuperação de quem experimentou a operação simulada se deve à convicção de que a cirurgia realmente eliminaria a dor do joelho, uma evidência de que o pensamento consegue modificar o funcionamento do corpo. É o chamado efeito placebo: algo que em princípio não deveria funcionar do ponto de vista físico e químico – como os cortes superficiais no lugar de uma cirurgia ou comprimidos de farinha em vez de pílulas com princípio ativo – na prática pode funcionar e, espantosamente, eliminar dores, baixar a pressão arterial, abrandar a ansiedade e diminuir a depressão.
Só agora esse fenômeno, do qual já se tinha consciência há quase 2 mil anos, desde pelo menos a Roma do imperador Marco Aurélio, começa a ser desvendado do ponto de vista bioquímico e fisiológico. É a expectativa de que a cirurgia será eficaz que altera o desempenho do sistema nervoso central, mesmo que na prática seja apenas uma simulação. Acionadas pela imaginação do doente, algumas áreas do sistema nervoso associadas à percepção da dor se tornam menos ativas, enquanto outras, relacionadas à inibição da dor, são acionadas, segundo estudos recentes. O não-tratamento, assim, é uma espécie de indução ao engano aceito pelo próprio cérebro: o que nunca foi se torna o próprio ser.
As nuances do real
As descobertas recentes reacendem um debate ético sobre se, quando e como usar placebo em testes de novos remédios e tratamentos ou mesmo como uma terapia paliativa em algumas doenças crônicas, como enxaqueca ou gastrite, desde que não envolvam risco de morte. Até hoje, os pesquisadores têm por certo que a forma mais eficiente de descobrir a verdadeira capacidade de cura de um novo medicamento ou de uma nova operação é comparar o tratamento real com um placebo – em tese, o mesmo que nada.
Antes de liberar um remédio para ser consumido pela população, as agências de controle de medicamentos – a exemplo da Food and Drug Administration (FDA), nos Estados Unidos, que serve de referência para o Brasil, ou o European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, na Europa – exigem testes com seres humanos com ouso de placebo, o chamado ensaio clínico duplo-cego, no qual nem médico nem paciente sabem quem recebe remédio ou placebo. Essa é, aliás, uma das poucas situações em que se consente o uso de placebo.
A Declaração de Helsinque, conjunto de normas éticas que regulam o uso de placebo em estudos com seres humanos, determina que em qualquer estudo médico deve-se assegurar o melhor tratamento diagnóstico ou terapêutico existente a todos os pacientes – incluindo aqueles do grupo controle, se houver – e, apenas em casos excepcionais, os pesquisadores podem adotar placebo.
Havia tempos se suspeitava de que o placebo fosse mais do que simplesmente algo que não existe, mas consegue fazer bem – um remédio imaginário, enfim. Derivada do verbo latino placere, que significa proporcionar prazer ou agradar, a palavra placebo aparece nos livros de medicina em fins do século 18. Mas o conceito de efeito placebo ganhou peso mesmo após a Segunda Guerra Mundial, quando pesquisas médicas começam a revelar alterações no funcionamento do organismo produzidas por substâncias farmacologicamente inócuas.
Em 1955, o anestesiologista norte-americano Henry Knowles Beecher publicou no Journal of the American Medical Association um artigo provocativo que se tornou uma referência: The powerful placebo . Beecher analisou 15 estudos clínicos nos quais uma parte dos voluntários recebeu placebo para tratar dor, distúrbios cardíacos e problemas gástricos.
De 21% a 58% dos doentes, número que variou segundo o problema apresentado, melhoraram tomando apenas os compostos sem ação farmacológica. E um terço tornou-se um número mágico. Ainda hoje, médicos e farmacólogos acreditam que uma proporção de pessoas semelhante à verificada no estudo de meio século atrás melhore por causa do efeito placebo, não pela ação específica do princípio ativo dos medicamentos, apesar do avanço da indústria química e farmacêutica nesse tempo.
A mais recente revelação sobre esse efeito mostra o placebo em ação sobre o sistema nervoso em tempo real. Por meio de um aparelho de ressonância nuclear magnética, a equipe de Jonathan Cohen, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, produziu imagens do cérebro em atividade de pessoas que participaram de dois experimentos distintos, supostamente voltados para testar a eficácia de um novo analgésico – na realidade, um creme inócuo.
Deitados no interior do aparelho, os participantes tinham de quantificar a dor ao receber um choque no punho no primeiro teste e, no outro, classificavam a dor causada pelo contato de um objeto quente no antebraço. A tela do computador mostrava por meio de cores a intensidade do funcionamento de cada área do cérebro. Em ambos os experimentos, apresentados em um artigo naScience de 20 de fevereiro deste ano, as pessoas afirmaram sentir menos dor nos testes feitos depois da aplicação do creme.
Efeito esperança
A simples informação de que haviam recebido uma dose de pomada analgésica – na verdade, o tal creme sem ação farmacológica – foi suficiente para diminuir a atividade de quatro regiões ligadas à percepção da dor: o córtex cingulado anterior e o somatossensório, a ínsula e o tálamo. Quanto menor a atividade dessas áreas, maior o alívio da dor. Em contraste, essas mesmas áreas permaneceram mais ativas em quem acreditava ter recebido um outro creme sem ação contra a dor – nos dois grupos, foram aplicadas a mesma pomada inativa.
A equipe de Cohen planejou o segundo experimento, no qual o objeto quente ficava em contato com a pele por 20 segundos, de modo que pudesse acompanhar a evolução da atividade do sistema nervoso e da ação do placebo desde antes do estímulo doloroso – fase chamada antecipação, quando um sinal luminoso com a expressão “Prepare-se!” informava ao voluntário que em breve entraria em contato com a peça quente – até a dor cessar por completo.
Tão logo as pessoas recebiam esse aviso, constataram os pesquisadores, aumentava bastante a atividade do córtex pré-frontal – parte do cérebro situada acima dos olhos, que regula outras áreas do sistema nervoso. Em seguida, no monitor do computador que mostrava o cérebro inteiro, brilhava outra região do sistema nervoso situada no mesencéfalo, associada à produção de analgésicos naturais tão potentes quanto a morfina. Na visão de Jonathan Cohen, o coordenador dessa pesquisa, a maior atividade do córtex pré-frontal nessa fase resulta da expectativa de alívio e diminui o funcionamento das áreas responsáveis pela percepção dolorosa. Foi por essa razão que os voluntários relataram uma redução de 22% na intensidade da dor no segundo experimento.
Mas apenas a expectativa de que o tratamento dê certo não explica por completo os resultados. Em dois outros experimentos realizados na Itália, Martina Amanzio e Fabrizio Benedetti, neurocientistas da Universidade de Turim, descobriram outro componente do efeito placebo, o condicionamento – algo parecido com o que viu Ivan Pavlov, o fisiologista russo que treinou cães famintos para salivar ao ouvir o toque de uma sineta.
De modo semelhante ao reflexo condicionado dos cães, o consumo de um determinado analgésico repetidas vezes habitua o corpo a reagir da mesma forma quando uma injeção de analgésico é trocada por uma dose de água com sal – sem o conhecimento do paciente, claro. Conseqüência: o sistema nervoso central faz o próprio corpo produzir compostos contra a dor, em uma reação quase automática a um estímulo conhecido, como, por exemplo, sentir a boca cheia d’água ao ouvir que o bolo de chocolate está pronto.
Uma das dificuldades do experimento da equipe italiana era elaborar um teste que comprovasse o poder do condicionamento. Os pesquisadores de Turim montaram uma complexa bateria de exames com 229 pessoas separadas em 12 grupos, para avaliar melhor os resultados – em cada grupo, se adotava uma estratégia diferente. Cada participante passou por cinco sessões de avaliação na qual repetiam os mesmos exercícios: pressionavam com a mão as hastes de um aparelho com molas – um dinamômetro -, enquanto uma bolsa de ar de um aparelho de medir pressão presa ao braço bloqueava a passagem de sangue para o antebraço do voluntário. A cada apertão, a dor no antebraço aumentava rapidamente e, em questão de minutos, atingia um nível insuportável.
Martina e Benedetti viram que as pessoas toleravam a dor por um período maior se, dez minutos antes do teste, fossem tratadas com uma injeção de morfina. O mais chocante: a resistência à dor foi semelhante à obtida com a morfina quando a pessoa tomava uma injeção de água salgada na terceira sessão de exercícios, após haver recebido o analgésico em dois testes seguidos. Se, no lugar de água e sal, a injeção contivesse uma droga que corta o efeito da morfina – a naxolona -, a tolerância à dor diminuía. Era um sinal claro de que o uso seguido de morfina condicionava o sistema nervoso a acionar as áreas produtoras de analgésicos do grupo dos opióides, ao qual pertence a morfina.
De modo semelhante, o placebo também induziu o corpo a acionar sua própria fonte de analgésico – mas por um mecanismo distinto – após a aplicação de uma dose de cetorolac, um potente analgésico não-opióide, em vez de morfina. Surgiu, porém, uma surpresa: a resistência à dor aumentou ainda mais quando, durante a injeção de placebo, os pesquisadores induziram os participantes a acreditar que o composto inócuo era morfina ou cetorolac. Estava claro: o placebo atuava sobre a dor por mecanismos neurológicos distintos (opióide e não-opióide), acionados em parte pela expectativa, em parte pelo condicionamento.
Em um experimento ainda mais curioso, Martina, Benedetti e outra neurocientista de Turim, Claudia Arduino, revelaram um aspecto até então não imaginado do placebo: sua ação benéfica pode se manifestar em partes específicas do corpo, para as quais se dirigem a atenção e a expectativa. Num teste que lembra uma cena de tortura, os pesquisadores injetaram simultaneamente no dorso das mãos e dos pés de cada voluntário uma dose de capsaicina, substância que faz a pimenta arder na boca. Nos segundos seguintes, o participante recebia um leve choque no pé ou na mão para avaliar a intensidade da dor.
Após a aplicação na mão direita de uma pomada inócua, que se acreditava ser um novo analgésico, os voluntários afirmavam sentir menos dor apenas naquele membro. Em artigo publicado no Journal of Neuroscience, o grupo italiano concluiu que mecanismos de atenção possivelmente também estejam envolvidos no efeito gerado pelo placebo, uma vez que a expectativa direcionada a uma determinada parte do corpo concentrou os benefícios apenas ali.
Além de ajudarem a compreender como nosso organismo reage diante da expectativa de cura, as evidências acumuladas nos últimos anos de que o placebo é mais que uma substância inócua também abrem uma polêmica: é nossa capacidade de autocura que é grande ou o problema está nos medicamentos disponíveis para a população, que são menos eficazes do que seria de esperar? Diversos estudos mostram que substâncias inócuas são capazes de, em algumas doenças, fazer a pessoa melhorar tanto quanto os remédios considerados eficazes, distinção que parece bastante complicada principalmente no caso dos medicamentos usados para tratar da depressão.
Antidepressivos
Em um artigo polêmico intitulado Listening Prozac but hearing placebo (Ouvindo Prozac, mas entendendo placebo), publicado na Prevention and Treatment de junho de 1998, Irving Kirsch, da Universidade de Connecticut, e Guy Sapirstein, do Hospital Westwood Lodge, ambos nos Estados Unidos, afirmaram que substâncias inócuas foram tão eficazes quanto os antidepressivos no tratamento da depressão. Foi um golpe nos medicamentos de eficácia comprovada, que movimentam um mercado de bilhões de dólares no mundo.
Talvez por precaução, o editor da revista adicionou uma observação ao estudo, informando que o trabalho usou uma metodologia polêmica para comparar estudos feitos com métodos e critérios de tratamento distintos. No ano seguinte, o médico Thomas Weihrauch, diretor do Centro de Pesquisas Farmacêuticas do laboratório farmacêutico Bayer, na Alemanha, buscou sinais do efeito placebo em diversos estudos que avaliavam a ação de cinco medicamentos produzidos pela Bayer – contra dor no peito, ansiedade, acidente vascular cerebral, gastrite e diabetes.
Com exceção do tratamento do diabetes, os compostos supostamente inócuos mostraram um nível de eficácia que variou caso a caso. Outra constatação ainda mais inesperada: de modo semelhante aos remédios, as substâncias-placebo provocaram na maior parte dos casos efeitos colaterais, como secura na boca, cansaço e confusão mental. Na conclusão do trabalho, publicado naDrug Researchde 1999, o pesquisador adverte: os médicos devem fazer uma seleção muito rigorosa das pessoas a serem tratadas, antes de receitar um medicamento sem eficácia cientificamente comprovada.
Surge então uma dúvida. Se um composto inerte funciona em parte dos casos, ainda pode ser considerado placebo? Depende de quem responde. Para os mais céticos, o placebo não tem ação farmacológica e ponto. Em 2001, os pesquisadores dinamarqueses Peter Gotzsche e Asbjorn Hrobjartsson, da Universidade de Copenhague e do Centro Cochrane em Copenhague, organização internacional que analisa conjuntos de estudos clínicos em busca de evidências da eficácia dos tratamentos, apresentaram no New England Journal of Medicine um artigo desbancando o efeito placebo.
Após analisar 130 estudos clínicos, os pesquisadores constataram que, de modo geral, dar placebo era equivalente a não fornecer nenhum tratamento para o doente. “Encontramos pouca evidência de que, em geral, os placebos apresentem poderosa ação clínica”, concluíram Gotzsche e Hrobjartsson. Segundo eles, os benefícios proporcionados por placebos parecem muito pequenos e foram observados apenas nos testes em que a avaliação da melhora era feita pelo próprio paciente – ou seja, a análise era subjetiva – ou na terapia da dor.
Nem todos pensam assim. Há quem defenda a reavaliação da própria definição de placebo. “Não há uma substância ou um tratamento em particular que possa, de uma vez por todas, ser definido como placebo”, afirma o filósofo Zbigniew Szawarski, da Universidade de Varsóvia, Polônia, em um dos artigos sobre o papel do placebo na pesquisa médica publicado na edição de janeiro da revista Science and Engineering Ethics . Segundo o filósofo, a razão é que a eficácia de um composto químico qualquer – inócuo ou farmacologicamente ativo – depende também das características do medicamento (como cor, forma, aroma), da pessoa que o toma, da relação com o médico e mesmo das circunstâncias em que é usado.
SobrevivênciaNikola Biller-Andorno, da Universidade de Goettingen, Alemanha, e consultor em ética da Organização Mundial da Saúde, apresenta uma alternativa. “A dicotomia entre substância ‘ativa’ e ‘placebo’ não é adequada, uma vez que os placebos podem produzir efeito e que parte da ação das substâncias ‘ativas’ pode ser decorrente do ‘efeito placebo’. Portanto, a terapia com placebo não deve ser considerada ausência de tratamento”, escreve Andorno em um dos artigos da Science and Engineering Ethics . “Em vez de pensar no emprego de um ou de outro, pode ser mais apropriado imaginar como o efeito placebo pode ser usado para melhorar a eficiência de uma determinada terapia”, propõe.
O neurocientista Raúl de La Fuente-Fernández, da Universidade de Colúmbia Britânica, no Canadá, e do Hospital Arquiteto Marcide, em La Coruña, Espanha, concorda com a necessidade de se alterar a forma de ver o placebo. Na sua opinião, é hora de repensar a estrutura dos estudos científicos.
“Observações recentes indicam que chegou o momento de planejar investigações apropriadas que utilizem o placebo”, afirma o pesquisador. Para ele, o efeito placebo pode ser um mecanismo que os seres humanos desenvolveram a partir da seleção natural. “Num período em que não existiam tratamentos ativos disponíveis, a capacidade de responder a remédios com supostas propriedades curativas poderia elevar a sobrevivência”, comenta La Fuente, que dois anos atrás desvendou como substâncias inócuas agem no sistema nervoso de pessoas com mal de Parkinson, que provoca a perda do controle dos movimentos e mata progressivamente as células produtoras de dopamina.
No artigo da Science and Engineering Ethics de janeiro, em que comenta as evidências bioquímicas do efeito placebo, La Fuente lança a ideia de que esse efeito de sugestão já deve ter sido maior, antes de surgirem os medicamentos atuais: “O poder de cura da fé pode ter diminuído nos tempos modernos como conseqüência da crescente influência que o método científico, uma vez estabelecido na literatura médica como a única ferramenta válida para se chegar à verdade, pode ter tido na mente da população geral.”
Fonte:http://revistapesquisa.fapesp.br/2004/06/01/remedios-imaginarios/
Comentários
Postar um comentário